

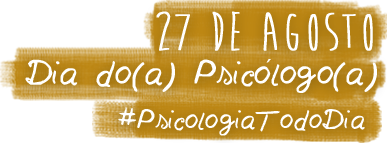
Uma contribuição da Psicologia na construção de políticas públicas contra a tortura
A memória, construção no presente sobre os acontecimentos do passado, assim como o ato de testemunhar, não são dimensões estranhas à prática clínica. O psicoterapeuta, o analista, ocupa um lugar na cena clínica de “testemunha ampliada”, o lugar daquele que escuta o testemunho do sujeito em seu sofrimento.
Vera Vital Brasil*
O tema da tortura foi silenciado por muitos anos e merece atenção especial dos psicólogos sensíveis, interessados na atividade crítica sobre as suas práticas e que apostam em contribuir para o avanço da democracia. Sem dúvida, não há estado democrático sem a garantia dos Direitos Humanos. Democracia e Direitos Humanos são valores indissociáveis; quanto mais débil e limitada a política de Direitos Humanos, mais imperfeita e limitada é a democracia.
A tortura é uma terrível chaga que permanece viva nos dias atuais produzindo efeitos na vida de quem a tenha experimentado em seu próprio corpo, em seus familiares, em seu entorno social. É um mal que afeta profundamente o conjunto das relações sociais.
De acordo com protocolos internacionais referendados pela maioria dos países, a tortura é uma prática exercida por agentes do Estado em nome de seus mandantes para extrair informações, confissões, que possam beneficiar seus projetos políticos. [1]
É inegável o fato de que a tortura tem atravessado os mais variados tempos históricos como uma prática de domínio político e que continua vigente de forma sistemática e generalizada, apesar dos instrumentos e mecanismos até agora construídos para coibir seu exercício. Ao nos perguntarmos os motivos de permanecer ativa, ainda que com tantos compromissos formais nacionais e internacionais, torna-se inevitável recorrer à história e as políticas estatais.
Do ponto de vista histórico-jurídico, o combate à tortura data do século XVII, quando seu questionamento e condenação se efetivaram na mudança do sistema inquisitivo ao acusatório. Nesta ocasião, por primeira vez, foi estabelecida a relação de sua proibição com o valor da dignidade humana.
Mais recentemente, no século passado, sob o forte impacto dos horrores cometidos na Segunda Guerra Mundial, em que os campos de concentração expuseram em grande escala a devastadora destruição de milhões de pessoas nas situações mais vis, foi criado um sistema supra-estatal de proteção aos Direitos Humanos e definidos os crimes de tortura e genocídio como crimes de lesa humanidade, marcando de forma definitiva a dimensão de afetação de todo o conjunto da sociedade humana.
Na América Latina, nos anos sessenta e setenta, com a política repressiva institucionalizada por regimes autoritários que promoveram perseguições, execuções sumárias, desaparecimentos de opositores, a tortura foi amplamente utilizada como método de dominação pelas forças que estavam no poder. Esta estratégia repressiva, instaurada institucionalmente em nosso país a partir de 1964 com o golpe civil-militar, reorientou a política até então em curso atingindo brutalmente os movimentos sociais, partidos políticos que clamavam pela ampliação de direitos. Ao serem aniquilados e/ou desarticulados pela forte repressão, o regime ditatorial ampliou o controle social e, contando com um eficaz aparato de mídia, penetrou nas mais variadas instituições, impondo um pensamento e formas de funcionamento social autoritários.
Neste quadro de perseguições, demissões e ameaças, potencializou-se o medo, a insegurança, a suspeição, efeitos subjetivos que repercutiram fortemente nas mais variadas redes da sociedade, afetando as relações de vizinhança e de trabalho. No período constitucional, que se seguiu à ditadura, predominou o silêncio e esquecimento sobre o ocorrido e os responsáveis pelas atrocidades se viram protegidos por uma interpretação falaciosa da figura dos “crimes conexos” na lei de Anistia de 1979. Vale lembrar que a grosseira interpretação que predominou até hoje e que foi referendada pela Corte Suprema de nosso país em 2010, desconsiderou que os responsáveis pelos crimes de lesa humanidade nunca foram sequer indiciados e muito menos condenados, portanto, não poderiam ser beneficiados com a anistia.
O desconhecimento da sociedade aliado ao sentimento de impunidade criou um caldo de cultura que favoreceu a disseminação da tortura, dos assassinatos, dos desaparecimentos, de maus-tratos, de discriminações de cidadãos empobrecidos, habitantes de periferia, ou seja, daqueles que atualmente têm sido considerados socialmente “seres incômodos” e ou “seres perigosos”. Nas prisões, nas delegacias, em instituições de abrigo, nas manifestações de ruas, a tortura tem sido uma prática comum para extrair confissões, humilhar, intimidar, para fazer cumprir ordens.
A tortura tem sido historicamente uma prática aceitável para os “outros” que assumem faces variadas através dos tempos de acordo com a gestão do Estado: daqueles que se opõem ou resistem ao poder, dos que supostamente “merecem” o castigo, daqueles que são considerados seres indesejáveis ao poder e, portanto, “seres descartáveis”.
A prática da tortura afeta a humanidade, compromete a democracia. Na cena da tortura se constitui, de forma imanente e em primeiro plano, a figura do torturador e a do torturado. O algoz, pela assimetria da relação, no exercício do poder soberano sobre a vida e a morte, mais além do que obter informações do supliciado exerce um ataque, um ultraje à dignidade humana. O torturador visa quebrar o vigor do corpo físico e psíquico do torturado, promover a ruptura dos laços que unem o sujeito ao seu grupo de inserção, colocando em questão a relação com os outros e com a sua própria existência. O sujeito na tortura se confronta com a iminência da morte. Sob as condições de degradação moral e física a que é submetido, em que sua dignidade é destituída de valor, a violência incide sobre os laços, os vínculos do sujeito com seus ideais, com seus pares, com sua família, com o social. Sob o fundo da cena de tortura está a sociedade que interage inevitavelmente com o que ocorre no primeiro plano. Os efeitos perversos de desumanização, de destituição de dignidade se irradiam em todas as direções com a corroboração, com a indiferença ou ainda com a reprovação, por não muitas vozes, deste ato inaceitável de violência estatal.
As políticas de silenciamento e esquecimento, produzidas pelo Estado sobre o ocorrido em nosso país, à diferença de outros países latino-americanos do cone sul, foram altamente eficazes. Ademais de levar a sociedade ao desconhecimento, estas políticas foram eficazes em produzir nos afetados diretos um modo de subjetivação: confinar no plano privado aquilo que diz respeito à dimensão pública. Estudos têm indicado que os danos da tortura, ao serem privatizados, vividos de forma solitária e individualizada, ao não serem reconhecidos, tendem a se manter e que, além de sua permanência, propagam-se nas futuras gerações, produzem os efeitos transgeracionais do dano psíquico. A ausência de reconhecimento, acolhimento, de suportes de memória, a não responsabilização dos autores e mandantes dos crimes, faz com que os danos provocados pela violência de Estado permaneçam.
Podemos dizer que a tortura fez calar: por não ser uma tarefa fácil comunicar os horrores sofridos, pela ausência de suportes facilitadores da quebra deste silêncio. E há que se destacar que um dos mais graves danos provocados pela tortura é a ruptura dos laços sociais. Se institucionalizada como nos períodos ditatoriais, promove a ruptura de segmentos sociais da sociedade com o Estado. A recomposição destes laços é um processo que envolve uma série de medidas complexas de implantação de políticas estatais de reparação.
Hoje, algumas iniciativas começam a dar lugar à palavra, ao testemunho, à construção de memória. A literatura, a filmografia sobre o período, vem revelando a intensidade das experiências de luta antes e durante o golpe, e à luta de resistência à ditadura. Os testemunhos passam a ser registrados de forma oficial na Comissão de Anistia, e mais recentemente nas Comissões da Verdade, o que permite construir uma memória coletiva sobre o período. Testemunhas quebram o silêncio, apontam o que foi vivido no regime totalitário, descrevem efeitos do dano da tortura em suas vidas e, como em alguns documentários, apontam que sintomas relacionados aos suplícios sofridos se manifestaram anos após a violência, como revelado por ex-presos no documentário “Setenta”, lançado este ano. Vale lembrar que alguns sobreviventes não suportaram os efeitos da tortura e cometeram o suicídio, como no caso do Frei Tito de Alencar que, há quarenta anos – dia 10 de agosto de 1974 – e três anos depois de sua liberação, enforcou-se em um convento na França por não mais suportar o sofrimento e as ameaças de seu torturador, Sérgio Fleury, que se tornou um fantasma perseguidor em sua existência.
Neste ano de 2014, nos 50 anos após a instalação do regime civil militar, se reacende e se amplia o debate público sobre aquele momento histórico. Ainda que tardiamente e de forma incipiente, em nosso país algumas medidas que se inserem no campo da chamada Justiça de Transição estão sendo tomadas. Medidas que, ao ampliar o debate para setores até então alheios ao tema, apontam iniciativas de reparação do Estado. Vale lembrar que a lei 9140/95 que criou a Comissão de Mortos e Desaparecidos, reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro nos crimes de morte e desaparecimento, mas não investigou estes crimes, atribuição que lhe cabia de acordo com a determinação da lei. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, em 2001, passou a reconhecer o direito à anistia aos perseguidos e a promover a reparação econômica. Mais recentemente, as Comissões da Verdade, instituídas sob chancela oficial, têm logrado iluminar um passado pouco conhecido pela sociedade e valorizar a memória sobre o período. No campo da Justiça, destacam-se a mudança de certidões de óbito de opositores assassinados, encaminhamentos do MPF para a investigação de crimes cometidos por agentes no regime autoritário. Estas medidas compõem a reparação do Estado dos crimes cometidos e contribuem para a afirmação do princípio da não repetição.
Dentre elas, e em destaque pelo tema que compete mais especificamente às práticas psicológicas, está um projeto piloto de reparação psicológica aos sobreviventes e seus familiares, chamado “Projeto Clínicas do Testemunho”, ligado à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Pela primeira vez, um órgão do Estado brasileiro reconhece a gravidade do dano psíquico em sobreviventes e familiares, lançando um edital público em 2012, que tem como eixo a atenção clínica, a capacitação de profissionais de saúde mental e a elaboração de subsídios para a implantação de uma política pública. Foram selecionados quatro projetos: um no Rio de Janeiro, dois em São Paulo e um em Porto Alegre e integrou-se a esta rede um projeto de Recife, mantido pelo governo do estado de Pernambuco.
Este trabalho pioneiro em nosso país tem mobilizado a palavra testemunhal, tem destravado a língua de tantos que se mantinham em silêncio. Podemos afirmar que a narrativa testemunhal permite um re-ligamento para com o mundo daquilo que se manteve confinado, enclausurado de forma privatizada. Possibilita o entrelaçamento entre a experiência individual e a coletiva. É um ato em que o sujeito se implica com sua história e por sua vez implica os que estão presentes na cena. A narrativa daquele que testemunha dirigida aos que suportam escutar os horrores dá lugar à produção de novos sentidos, recompõe os vínculos sociais, restitui a dignidade dos afetados pela tortura.
O corpo da testemunha carrega a inscrição da violência sofrida. Ao testemunhar, no tempo presente, reconstrói o passado, reordenando o excesso de excitações de seu corpo afetivo, marcado pela situação traumática, e dá um novo sentido à experiência dolorosa que não é mais somente sua, é do coletivo que escuta. O ato de testemunhar é, neste sentido, terapêutico. E é ao mesmo tempo construção da memória das injustiças e um canal de busca da justiça.
O Projeto Clínicas do Testemunho tem uma função importante neste cenário das Comissões da Verdade ao abrir o debate sobre a importância do testemunho em sua função reparadora. Na medida em que as equipes clínicas se colocam à disposição das Comissões, como no caso da Comissão da Verdade do RJ, CEV-Rio, e às Municipais do interior do estado, para acompanhar os testemunhos da verdade, tem-se verificado a demanda de apoio a assessores e comissionados, dado o impacto das revelações dos horrores experimentados e que durante tantos anos foram silenciadas.
A memória, construção no presente sobre os acontecimentos do passado, assim como o ato de testemunhar, não são dimensões estranhas à prática clínica. O psicoterapeuta, o analista, ocupa um lugar na cena clínica de “testemunha ampliada”, o lugar daquele que escuta o testemunho do sujeito em seu sofrimento.
Por sua vez, o conceito de testemunho, peça central no tema da construção de memória das injustiças, merece especial atenção na clínica psicológica em seus efeitos de reparação do dano em sobreviventes de regimes totalitários.
A atenção clínica pode se constituir em um instrumento que facilite a expressão de modos de subjetivação até então vividos de forma privatizada e solitária. De coletivizar uma experiência que não se limita à dimensão do indivíduo. Entretanto, a reparação simbólica dos danos, ainda que valiosa pela possibilidade de destinar um outro sentido ao que foi vivido nas situações traumáticas, tem suas limitações. Para além da situação concreta de não se poder restabelecer a vida dos que foram assassinados e desaparecidos, na reparação psicológica do dano há que se levar em conta o seu caráter específico político, por ter sido efetuado por quem deveria proteger e não torturar. A atenção clínica de sobreviventes e familiares de mortos e desaparecidos é necessária ao processo de reparação, mas tem seus limites. Dada a complexidade de seu caráter político faz-se necessária a implantação do que se entende por reparação integral, com a aplicação de políticas públicas que ampliem a reparação, medidas de construção de verdade, memória e justiça. Este fator de marca a importância e as limitações da intervenção clínica, e aponta para a inter-relação entre estas dimensões, que interagem entre si.
O país ainda não construiu Centros de Memória em número suficiente que permitam uma ampliação de conhecimentos sobre o período para que as gerações atuais possam construir um pensamento critico sobre os efeitos nefastos da tortura e da violência de Estado que se irradiaram do passado ao presente. Atualmente apenas um, implantado em São Paulo, o Memorial da Resistência. O debate sobre a importância de construção de memória, que se reacendeu com as Comissões da Verdade, tem estimulado a luta pela criação de Centros de Memória. Espaços que possam funcionar como dispositivos propulsores na formação em Direitos Humanos, em que o conhecimento e memória estejam disponíveis em acervo documental com pleno acesso da população, que a arte e os direitos humanos possam estar irmanados, contribuindo para a formação de cidadania. Que sejam espaços públicos para mobilizar estudantes, movimentos sociais em torno da cultura dos Direitos Humanos, em que se possa afirmar em sua proposta prática o princípio da não repetição.
Cabe aos psicólogos estarem atentos às políticas públicas em Direitos Humanos, ainda muito pouco desenvolvidas em nosso país. Investimento que o Estado brasileiro tem realizado muito aquém das necessidades para uma formação cidadã, para reparar os danos da violência cometida por seus agentes. Os conselhos profissionais têm uma contribuição inestimável a dar neste processo ao apontar as necessidades para a implantação de políticas públicas que possam fortalecer a formação pedagógica em Direitos Humanos, bem como da escuta clínica dos afetados pelas violações do Estado.
A iniciativa do CFP em lançar uma publicação sobre memórias “A Verdade é Revolucionária, testemunhos e memórias de psicólogas e psicólogos sobre a ditadura civil militar” valorizou a dimensão do testemunho e da memória entre os profissionais, o que contribui para estimular o pensamento sobre os acontecimentos do passado e analisar os que ainda afetam o nosso presente. Revela, ainda, o compromisso da comunidade psi com a luta pelos Direitos Humanos, que envolve, necessariamente, o exame crítico da violência de Estado no passado e nos dias atuais.
* Psicóloga, integrante da Comissão de Direitos Humanos do CFP; membro fundador do Fórum de Reparação e Memória do Rio de Janeiro; membro colaborador da Escola de Saúde Mental do Rio de Janeiro; membro do ColetivoRJ Memória, Verdade e Justiça; membro da Equipe Clínico Política; coordenadora da Equipe do “Projetos Terapêuticos RJ”, do Projeto Clínicas do Testemunho da Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça.
[1] Definição das Nações Unidas de tortura: “qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos graves, de natureza física ou mental, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; […] castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja suspeita de ter cometido; […] intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos sãoinfligidos por funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência.”
